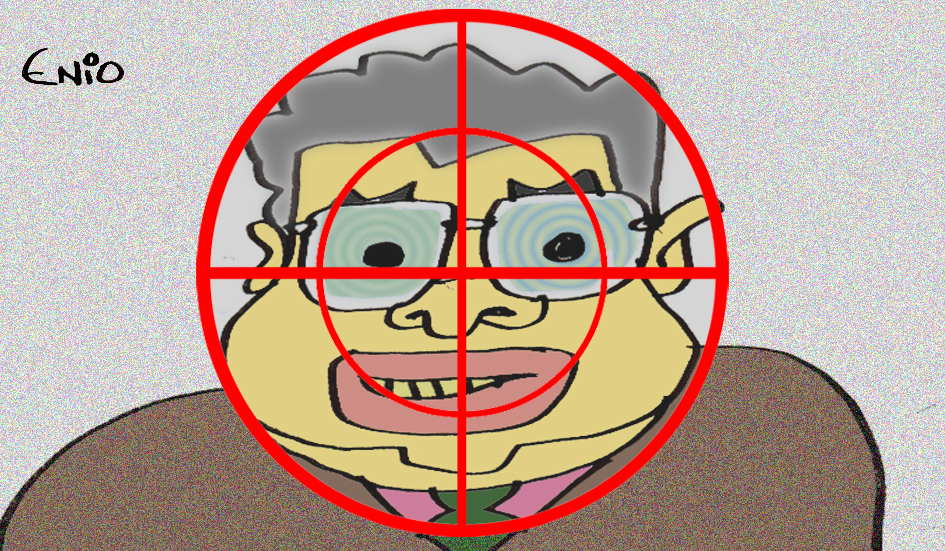Mesmo após mais de duas décadas de existência, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda expõe uma contradição central da educação brasileira: para além de avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da Educação Básica, o exame se tornou um instrumento de democratização do acesso ao Ensino Superior e, como tal, escancara a persistência das desigualdades sociais no País.
Até 2023, um dos principais desafios apontados pelo Ministério da Educação (MEC) era o desinteresse de jovens da rede pública em se inscrever.
Naquele ano, segundo recente declaração do ministro da Educação, dos 4,3 milhões de estudantes que concluíram o 3º ano do Ensino Médio na rede pública, apenas 1,18 milhão de alunos da rede pública participaram do exame, ou seja, 58% dos potenciais concluintes.
Diante disso, o governo federal reformulou o programa Pé-de-Meia em 2024, oferecendo uma bonificação de R$ 200 para os estudantes que comparecessem aos dois dias de prova.
O resultado, possivelmente alcançado com a ajuda dessa bonificação, foi um salto significativo e importante na adesão: 1,66 milhão de inscritos da rede pública, representando 94% dos concluintes (ainda segundo recente declaração do ministro da Educação).
Mas a pergunta que permanece é: participação significa engajamento real, igualdade de oportunidade? Para muitos estudantes em situação de vulnerabilidade, é possível que a motivação não tenha sido acadêmica, mas financeira.
O pagamento do incentivo serviu como alívio momentâneo para dificuldades concretas, mas não necessariamente como ferramenta de projeto de vida. Participar da prova não é o mesmo que prepará-la com a intenção de disputar uma vaga no Ensino Superior.
Esse descompasso aparece claramente nos dados de desempenho. Em 2024, a média dos estudantes da rede privada no Enem foi de 605 pontos, enquanto os da rede pública foi de 514 – uma diferença de 19,65%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entre as 50 melhores escolas no ranking do Enem, apenas três são públicas – todas federais.
Uma das raízes do problema é o fenômeno que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) chama de “barreira de horizonte”: a dificuldade que jovens periféricos têm de se imaginar ocupando espaços universitários. A ausência de referências familiares ou comunitárias no Ensino Superior reforça a percepção de que “não é para eles”.
A desigualdade também se manifesta na infraestrutura escolar. Segundo relatório da Unesco (maio/2025) e do último Censo Escolar, muitas escolas públicas ainda carecem de bibliotecas, laboratórios e professores especializados – elementos considerados fundamentais para desenvolver as habilidades avaliadas pelo Enem.
Estamos diante de um paradoxo: as melhores vagas nas universidades públicas – gratuitas – continuam sendo ocupadas, em grande parte, por alunos que puderam pagar pelo Ensino Médio. E a desigualdade se perpetua.
Nesse contexto, qual deve ser o papel da escola pública? Mais do que ensinar conteúdos, ela precisa ajudar a construir projetos de vida. Isso implica despertar no aluno o interesse em planejar o futuro e ser protagonista da sua própria história.
É crucial também oferecer orientação acadêmica consistente, explicar as etapas do Enem, divulgar oportunidades reais, criar grupos de estudo, articular parceriasww com universidades.
Mas, sobretudo, precisamos cultivar nos estudantes a crença de que é possível sonhar com o Ensino Superior.
Segundo o Censo da Educação Superior de 2022, apenas 20% dos jovens de 18 a 24 anos frequentavam uma universidade. Por isso, tornar os estudantes da rede pública mais preparados para disputar vagas no Ensino Superior não é apenas uma meta educacional, é uma exigência democrática.
O Enem pode ser, sim, uma poderosa ferramenta de transformação social. Mas, para que isso se concretize, é necessário ir além da bonificação emergencial, por melhor intencionada que seja.
É preciso investir no simbólico e no estrutural: começando por mostrar que a universidade é um caminho viável – e desejável – para todos.